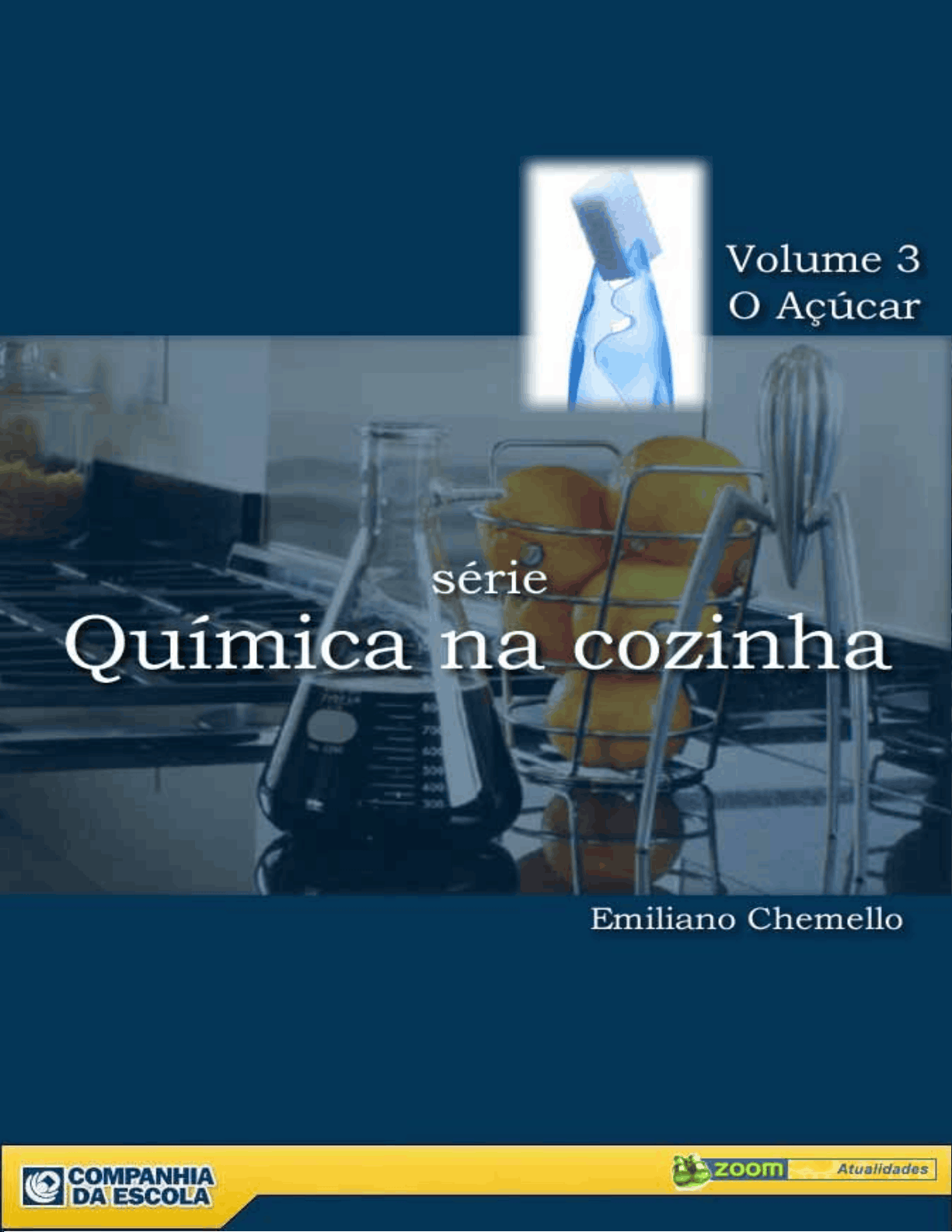
























Study with the several resources on Docsity

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity

Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
Açucar resumo de tudo sdadsad a fasd as da sda
Typology: Summaries
1 / 30

This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
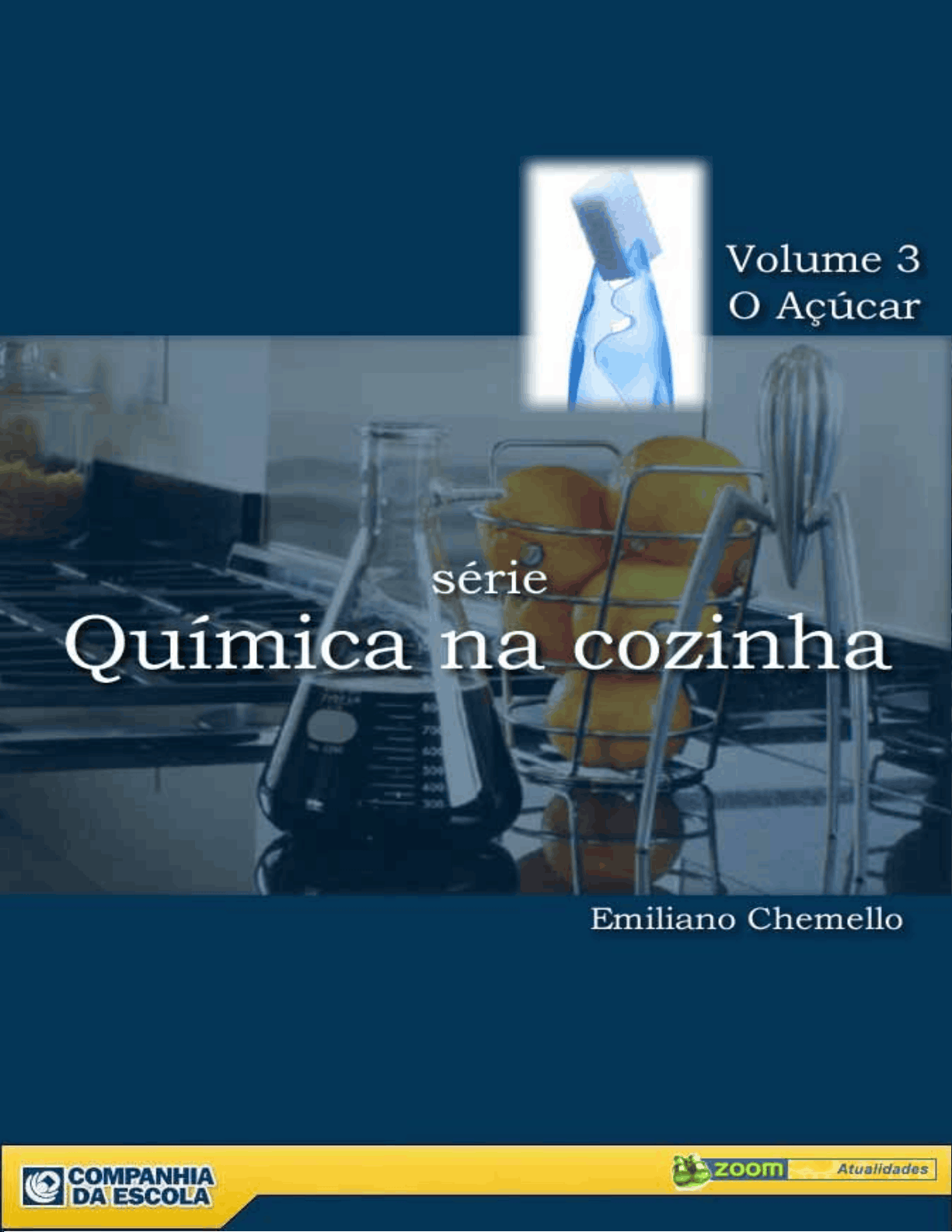






















A Q U Í M I C A N A C O Z I N H A A P R E S E N T A : O A Ç Ú C A R
Série Química na Cozinha | Editora Cia da Escola | ZOOM | Ano 6 | nº 4 | p. 1
A Q U Í M I C A N A C O Z I N H A A P R E S E N T A : O A Ç Ú C A R
Série Química na Cozinha | Editora Cia da Escola | ZOOM | Ano 6 | nº 4 | p. 1
CHEMELLO, Emiliano. A Química na Cozinha apresenta: O Açúcar. Revista Eletrônica ZOOM da Editora Cia da Escola – São Paulo, Ano 6, nº 4, 2005. [versão para impressão] Original disponível on-line em: www.ciadaescola.com.br/zoom/materia.asp?materia=
vida não seria possível sem o açúcar! Esta frase, mesmo para o maior entusiasta consumidor de guloseimas, parece um tanto exagerada, não achas? Mas, em uma interpretação literal da frase, considerando também que a 'espinha dorsal' de nos- so DNA é constituída por moléculas de açúcar, realmente a vida, da forma como a conhecemos, não seria possível sem ele.
O último artigo da série 'Química na Cozinha' não poderia deixar de ter como tema o a- çúcar, fato que é quase uma analogia que faz referência à tradição de servir a sobremesa, geralmen- te de sabor doce, ao final das refeições. O açúcar, da mesma forma que a cebola e o sal, temas das edições anteriores desta série aqui no ZOOM, está presente de maneira marcante na cozinha. U- samos muito de suas propriedades, mas, geralmente, desconhecemos porque e como elas atuam em nossas receitas e em nosso corpo. Sem falar que nem sempre tudo que é doce é açúcar, pois, nos últimos anos, o uso de adoçantes dietéticos artificiais e naturais teve um crescimento assusta- dor, tanto para fins medicinais como estéticos.
Quais são as vantagens e desvantagens dos adoçantes artificiais e naturais? Qual o açúcar mais indicado: mascavo ou refinado? O que acontece com o açúcar na caramelização? Estas e outras perguntas serão discutidas e respondidas, mesmo que parcialmente, nesse artigo que preten- de encerrar a série 'Química na Cozinha' mostrando quais são as particularidades desta especiaria que, há séculos, vem 'adoçando as nossas vidas'. Os capítulos foram produzidos independes uns dos outros, de tal forma que eles podem ser lidos em qualquer ordem sem prejudicar com isso o seu entendimento. Portanto, leia somente o(s) que lhe interessar. Vamos logo saborear a sobreme- sa! Com vocês, o açúcar! Boa leitura!
A cana-de-açúcar ( Saccharum L. e seus híbridos^1 ) é, talvez, o único produto de origem a- grícola destinado à alimentação que, ao longo dos séculos, foi alvo de disputas e conquistas, mobi- lizando pessoas e nações. Não se sabe bem ao certo de onde ela veio, mas a maioria das referências históricas indica que teriam sido os povos das ilhas do sul do Pacífico, há mais de vinte mil anos, que descobriram as propriedades desta planta, a qual crescia espontaneamente nas suas terras.
Foi na atual Nova Guiné em que se supõe que ela tenha sido cultivada pela primeira vez. Teriam sido os indianos o primeiro povo a extrair o 'suco da cana' e a produzir, pela primeira vez, o 'açúcar bruto', por volta do ano quinhentos antes de Cristo. Não é por acaso que seu nome é originário do sânscrito ' çarkara ', que significa 'grão' e do qual vai derivar o nosso 'açúcar', 'sukkar' para os árabes, 'saccharum' em latim, 'zucchero' em italiano, 'seker' para os turcos, 'zucker' para os alemães, 'sugar' em inglês, 'sucre' em francês e 'azúcar' em espanhol.
O desembarque da cana-de-açúcar na Europa Oriental aconteceu no século IV a.C., fruto das viagens e conquistas de Alexandre Magno, desde a Macedônia até à Ásia. Dos gregos, o Impé- rio Romano herdou aquele a que chamavam de 'sal indiano', muito apreciado pelas suas proprieda- des gastronômicas e medicinais. Mas foram os árabes os responsáveis pelo início da produção de açúcar sólido ao longo do mediterrâneo, arte aprendida com os persas. No século VII, a cultura do açúcar chegava, assim, ao Chipre, à Creta, à Rodes e a todo o Norte de África, embora com uma adaptação ao solo e ao clima variável. No século XII, as tentativas de cultivo estenderam-se às regiões da Grécia, do Sul de Itália e França, mas a produção continuou a ser muita reduzida. Por isso, o açúcar permanecia um produto medicinal e de luxo, vendido nos boticários, ao alcance de poucos.
Nessa altura, eram os mercadores venezianos os principais intermediários desse comércio: compravam o açúcar na Índia e vendiam-no a quem podia pagar por esta raridade gastronômica.
Paralelamente, a descoberta do 'Novo Mundo' inseriu a última mudança na história da introdução do açúcar em nossas mesas. Por sorte, o navegador Cristóvão Colombo possuía uma plantação de cana-de-açúcar e, antes de se casar, trabalhava transportando açúcar para a cidade de Gênova, na Itália, proveniente das plantações de cana na Ilha da Madeira. Isto tudo, provavelmente, fez com que ele tivesse a idéia de levar um pouco de cana-de-açúcar para o Caribe, em sua segunda viagem ao 'Novo Mundo' no ano de 1493.
No novo continente, a cana encontrou excelentes condições para se desenvolver e não foram precisos muitos anos para que, em praticamente todos os países recém colonizados, os campos se enchessem de cana-de-açúcar. Seguiu-se uma época de grande prosperidade para a cultura e comercialização deste produto, protagonizada por portugueses e espanhóis, com especial destaque para as plantações aqui no Brasil. A cobiçada especiaria ganhou mesmo honras de metal precioso. Chamavam-lhe de 'o ouro branco', tal era a fortuna que gerava.
A exploração dos escravos, que se praticou desde o século XVI até princípios do século XIX, viabilizou a expansão da indústria do açúcar de uma forma irreversível, com plantações prati- camente em todo o mundo, desde as Índias Ocidentais às Américas. Mais popularizado, principal- mente para adoçar as novas bebidas, também de origem 'exótica' como café e chá, o açúcar conhe- ce um maior consumo, embora ainda mais presente no círculo restrito das classes abastadas. Para conferir um mapa que resume a história do açúcar, clique aqui.
Figura 1 - A produção mundial de açúcar em 2004/2005 é estimada em 144 milhões de toneladas, sendo que 75% atrelada aos dez maiores países produtores. Fonte: Illovo Sugar.
Hoje, o maior produtor de açúcar é o Brasil, seguido pela União Européia (EU – Europe- an Union), Índia e China, conforme podemos visualizar na Figura 1. O açúcar tornou-se um ali- mento comum à dieta de todos os países, constituindo uma fonte de energia de fácil e rápida assi- milação. Além disso, o sabor doce é um dos mais apreciados pelo ser humano, o que torna o açú- car um dos alimentos capazes de oferecer momentos de bem-estar e prazer. No próximo capítulo, conheceremos um pouco mais sobre a intimidade (a nível molecular) deste composto.
Para uma rápida demanda de energia, nada se iguala ao açúcar. Mas, você sabia que o pa- pel e o algodão são feitos de ‘açúcar’? Antes que você tente provar qualquer um dos dois exemplos
Não é objetivo aqui se fazer uma análise aprofundada da fotossíntese, pois se trata de um fenômeno deveras complexo e que não está diretamente ligado ao escopo deste artigo, mas, se você quiser saber mais sobre o assunto, sugiro a visualização das seguintes animações disponíveis na Internet:
http://www.catie.org.uk/images/Plant_Life_Rev01_04.swf
http://ilo.ecb.org/SourceFiles/photosynthesis.swf
É comum separar o fenômeno da fotossíntese vegetal em duas fases: a clara e a escura, sendo que a fase clara teria a luz solar para sintetizar ATP^3 e formar NADPH^4 na membrana tila- cóide, e a fase escura, na qual o ATP e o NADPH produzidos na fase clara são utilizados para a fixação de CO2(g), o que ocorre no estroma^5 do cloroplasto^6. Falando especificamente na fase ‘es- cura’ de fotossíntese, há a formação de sacarose através da reação indicada na Figura 3.
Figura 3 – Síntese da sacarose em uma etapa da fotossíntese
Essa sacarose formada, por sua vez, poderá ser convertida finalmente em amido, um tipo de carboidrato que tem como função ser uma fonte energética de reserva nas plantas, com função semelhante ao glicogênio^7 nos seres humanos, ou então em celulose, a qual servirá para formar as estruturas da planta, como o caule e as folhas, por exemplo.
A sensação do sabor é resultado de um sistema sensorial dedicado primeiramente a verifi- car a qualidade do alimento que será ingerido. Embora ajudado pelas análises do olfato e da visão, o reconhecimento final se dá nas interações que certos grupamentos das moléculas dos alimentos vão ter com receptores exclusivos para cada gosto, os quais estão presentes, de forma predominan- te, em nossa língua. Nós humanos reconhecemos cinco tipos de gostos: ácido, amargo, doce, sal- gado e umami^8.
Um ser humano normal consegue detectar a presença de cerca de 6,85 g de açúcar dissol- vidos em 200 mL de água. Pesquisadores da Embrapa, em parceria com a Escola Politécnica da USP, desenvolveram uma língua eletrônica que consegue detectar 0,3 g de açúcar dissolvido em 200 mL de água. A língua eletrônica consiste em um conjunto de unidades sensoriais que devem ser mergulhadas no líquido analisado. Estas unidades são eletrodos metálicos recobertos por uma finíssima camada de diversos polímeros ‘inteligentes’, os quais são sensíveis às substâncias presen- tes na solução.
Figura 4 – Esquema geral explicando o sentido do paladar.
O sabor doce ocorre em resposta à presença de carboidratos solúveis em concentrações suficientes na cavidade oral. Contudo, existe uma diversidade relativamente grande de moléculas que não são carboidratos, mas também apresentam sabor doce. Para felicidade das pessoas que não podem ingerir açúcar devido a problemas relacionados com determinadas patologias, como é o caso do diabetes, surgem os adoçantes dietéticos, os quais merecerão um capítulo especial neste artigo.
Os carboidratos são compostos de função mista, poliálcool-aldeído ou poliálcool-cetona, ou qualquer outro que, ao sofrer hidrólise, se transforme num composto deste tipo. São constituí- dos de carbono, oxigênio e hidrogênio, exclusivamente, combinados de acordo com a fórmula [ Cx(H 2 O)y ] , em que x e y são números inteiros. Por exemplo: a molécula de sacarose teria uma fórmula correspondente a C 12 (H 2 O) 11 ou, na configuração de fórmula molecular, C 12 H 22 O 11. Seu nome oficial^9 é α-D-glucopyranosyl-β-D-fructofranoside.
Olhando a sua fórmula geral, fica fácil sa- ber porque esses compostos são conhecidos pelo nome ‘hidratos de carbono’. Eles podem formar estruturas simples, como os mono e dissacarídeos, até estruturas grandes e complexas, como os polis- sacarídeos. A sacarose é um carboidrato do tipo dissacarídeo, formado pela união de dois monossa- carídeos: α-glicose e a frutose. A fórmula estrutural da sacarose e dos monossacarídeos que a constituem podem ser visualizadas na Figura 6. Outros exem- plos de dissacarídeos importantes são a maltose (açúcar do malte) e a lactose (açúcar do leite), sendo que este último só é encontrado em mamíferos.
Um comentário adicional se faz importante com relação ao açúcar do leite. Nas crianças, a lactose é hidrolisada pela enzima intestinal β-D- galactosidase (ou também conhecida pelo nome ‘lactase’) aos seus componentes monosacarídicos para absorção na corrente sanguínea. A galactose é enzimaticamente convertida em glicose, que é o principal combustível de muitos tecidos. Uma vez que é improvável os mamíferos encontrarem lactose após terem sido desmamados, a maioria dos adultos possui baixos níveis de β-galactosidase. Con- seqüentemente, boa parte da lactose que eles ingerem atravessa o trato digestivo até o cólon, onde a fermentação bacteriana produz grandes quantidades de CO2(g), H2(g) e agentes orgânicos irritantes. Estes produtos causam dores digestivas conhecidas como intolerância à lactose.
Figura 6 – Síntese da sacarose a partir de seus constituintes: α-glicose e frutose
Essa doença, que já foi considerada um distúrbio metabólico é, na realidade, bastante co- mum em seres humanos adultos, em particular de descendência africana ou asiática. Curiosamente, entretanto, os níveis de β-galactosidase diminuem apenas de forma amena com a idade em descen- dentes de populações que, historicamente, consomem uma base de produtos laticínios na dieta durante toda a vida. A tecnologia de alimentos moderna tem auxiliado os adultos apreciadores de leite com intolerância à lactose: encontra-se disponível um tipo de leite em que a lactose foi previ- amente hidrolisada de modo enzimático.
Embora esses tipos de carboidratos (mono, di e polissacarídeos) sejam tão diferentes en- tre si em termos de estrutura molecular, todos eles fornecem a mesma quantidade de energia para o nosso metabolismo: cerca de 4 kcal/g. No final das contas, todos são fundamentalmente glicose. Esta, por sua vez, entrará em rotas metabólicas a fim de produzir moléculas de ATP, iguais às formadas no fenômeno da fotossíntese, as quais serão utilizadas para fornecer energia aos proces- sos celulares, promovendo a sua manutenção.
Para fechar com chave de ouro este capítulo, vamos imaginar uma experiência (e por que não, com muito cuidado, reproduzi-la em laboratório?). Uma das características marcantes do ácido sulfúrico (em especial o concentrado) é o seu grande caráter higroscópico (afinidade por água). Devido a isto, há uma experiência clássica a qual mostra que a matéria orgânica é composta por carbono e que revela a constituição dos carboidratos. A experiência consiste em adicionar
ácido sulfúrico concentrado ao açúcar, de preferência o tipo ‘cristal’. Após mexer a mistura, ocor- rerá uma reação bastante característica, na qual haverá a desidratação do açúcar, reação que pode ser equacionada conforme mostra a Figura 7.
Figura 7 – Equação que mostra a desidratação do açúcar pela ação higroscópica do ácido sulfúrico concentrado e evidencia a constituição dos carboidratos.
Como se pode ver, ao final da reação, obtém-se carbono sólido, o qual pode ser clara- mente identificado pela formação de uma estrutura volumosa de cor negra que sai do local onde havia antes a mistura de ácido sulfúrico e açúcar. As imagens bem como o vídeo da reação química descrita acima podem ser vistos através do módulo Chemistry Come Alive do Journal of Chemical Education Online.
No açúcar de cozinha há somente sacarose? Rigorosamente falando, não. No açúcar co- mercial, há sempre uma pequena porcentagem de ‘impurezas’ (predominantemente sais minerais e aminoácidos) que resistiram as várias etapas de refino. Para eliminar justamente estas ‘impurezas’ é que estas etapas são realizadas. Contudo, podemos considerar o açúcar, para efeitos práticos, como sendo constituído apenas por sacarose, visto que as ‘impurezas’ não possuem nenhuma aplicabili- dade, pelo menos nas concentrações que são encontradas no açúcar refinado, por exemplo, o qual é 99,8 % puro. No próximo capítulo, você saberá mais sobre este carboidrato, do tipo dissacarídeo, o qual entrará em ação em um dos cômodos mais ‘queridos’ das nossas residências: A cozinha.
supermercados. No refinamento, aditivos químicos, como o enxofre, tornam o produto branco e delicioso. O lado ruim, segundo a maioria dos nutricionistas, é que este processo retira vitaminas e sais minerais, deixando apenas as "calorias vazias" (sem nutrientes), permanecendo cerca de 99,8 % de sacarose.
to do caldo de cana. Como o açúcar mascavo não passa pelas etapas seguintes de refinamento, ele conserva o cálcio, o ferro e outros sais minerais. Mas seu gosto, bem parecido com o do caldo de cana, desagrada algumas pessoas. O grau de pureza de sacarose neste açúcar gira em torno de 90 % e é muito recomendado por nutricionistas, devido ao fato de não ser um produto altamente con- centrado e de preço acessível, além de possuir mais nutrientes. Há, no entanto, autores que afir- mam que estes nutrientes presentes no açúcar mascavo somam valores muito pequenos e que quantidades nada saudáveis de açúcar mascavo deveriam ser consumidas para suprir as necessida- des diárias de nutrientes em nosso organismo.
Refinado Mascavo e demerara Orgânico Frutose
Energia 387 kcal 376 kcal 399 kcal 400 kcal
Carboidratos 99,90 g 97,30 g 99,3 g n/d
Vitamina B1 0 mg 0,010 mg n/d n/d Vitamina B2 0,020 mg 0,010 mg n/d n/d
Vitamina B6 0 mg 0,030 mg n/d n/d Cálcio 1,0 mg 85 mg n/d n/d
Magnésio 0 mg 29 mg n/d n/d Cobre 0,040 mg 0,300 mg n/d n/d
Fósforo 2 mg 22 mg n/d n/d Potássio 2 mg 346 mg n/d n/d
Proteína n/d n/d 0,5% n/d
Tabela 1 – Comparação das composições de alguns tipos de açúcar
dissolvidos em água. Depois do cozimento, ele passa apenas por etapas de refinamento, as quais retiram cerca de 90% dos sais minerais. Por ser econômico e render bastante, o açúcar cristal sem- pre aparece nas receitas de bolos e doces.
pouco mais caro que os demais. Ele passa por um refinamento leve e não recebe nenhum aditivo químico. Seus grãos são marrom-claros e devido à camada de melado que envolve seus cristais, o açúcar demerara tem valores nutricionais relativamente altos, semelhantes aos do mascavo.
invertase, liberando a glicose e a frutose (ambos monossacarídeos isômeros) que formam sua estru- tura original.
Essa reação acima é denominada de inversão da sacarose, pois durante sua ocorrência, o plano da luz polarizada^10 incidente desvia-se da direita (+ 66,5°) para a esquerda (+ 52,7° - 92,3° =
Não. O açúcar que conhecemos também pode ser produzido a partir de outras plantas. A produção que se destaca (após o açúcar proveniente da cana) em escala industrial é do açúcar da beterraba. Planta da família Chenopodiaceae , a beterraba tem como espécie utilizada na produção de açúcar a Beta vulgaris L. (veja Figura 8 ). Existem, no entanto, diferenças entre uma extração e outra. Para começar, o percentual de açúcar (sacarose) na cana é de 60 %. Já na beterraba, este percentual cai para 15 a 20%. Logo, é mais vantajoso economicamente produzir açúcar de cana. Porém, países que não possuem um clima tão tropical como o Brasil não conseguem que a cana se adapte e cresça de forma natural, tendo em vista as condições desfavoráveis que a planta encontra. Temos como exemplo de alguns países do conti- nente europeu, que se obrigam a produzir açúcar de beter- raba e importar o que não conseguem produzir de países predominantemente tropicais.
Figura 8 - Imagem de uma beterraba da espécie Beta vulgaris L.
Outro exemplo é o EUA, que produz metade do seu açúcar através da beterraba, a qual não é aquela que colocamos na salada, mas outra, de cor branca, bem maior que a espécie que roxa conhecemos. Não há diferença, sob o ponto de vista químico, entre o açúcar proveniente de cana e de beterraba, pois em ambos há praticamente 100 % sacarose. Isso faz com que as empresas não sejam obrigadas a informar nos rótulos de seus produtos a procedência do açúcar.
O açúcar de beterraba foi extraído pela primeira vez em 1747, embora já tenha sido des- coberto como componente da beterraba em 1575. Em 1786 houve uma tentativa de passar a soli- dificação do açúcar para o plano industrial, mas os altos custos e a baixa produção não trouxeram os resultados esperados. Só mais tarde foi concretizada a extração industrial do açúcar de beterraba na França.
Existem dois tipos de reações de escurecimento em alimentos: enzimático, o qual é visto na superfície da fruta cortada e o escurecimento não enzimático, que ocorre quando certos tipos de alimentos (como café, carnes, pães ou açúcares) são aquecidos.
A formação da cor escura desejada na cozinha é, geralmente, associada com o escureci- mento não enzimático, o qual ocorre de diversas maneiras. As formas mais importantes de escure- cimento não enzimático são:
do açúcar refinado. Contudo, o refino concentra mais a sacarose do açúcar, fazendo com que se tenha um produto com alta densidade de sacarose. Nosso corpo não é acostumado com compos- tos de alta pureza (veja o exemplo da água e os sais minerais nela dissolvidos e sua importância). Esta concentração pode causar no organismo um efeito muitas vezes caracterizado por analogia como 'efeito montanha russa', o qual se caracteriza por altas e baixas concentrações de glicose no sangue em tempos relativamente curtos. Este feito pode, a longo prazo, causar avarias no sistema liberador de insulina, podendo resultar em patologias.
Se me perguntassem qual a minha opinião sobre o açúcar mascavo e o refinado, ou qual seria o mais recomendado sob o ponto de vista da nutrição, eu diria, sinceramente, ‘não sei’. Bem, mas posso fazer algumas especulações. Vamos lá!
Quanto ao assunto 'açúcar refinado', tenho minha opinião estabelecida. Durante minha revisão bibliográfica, me deparei com o livro ‘O que Einstein disse a seu cozinheiro’, do autor Robert Wolke, e fiquei bastante pensativo quanto as suas palavras, em especial com as que destaco abaixo:
"Será que alguém poderia por favor me explicar por que, quando os componentes do melado são retirados, a sacarose pura restante de repente passa a ser ruim e danosa à saúde?" p.
Ao meu ver, parece que o autor, inclusive nos parágrafos anteriores à citação acima, fez somente uma análise sob o ponto de vista químico, comparando o açúcar mascavo e o refinado. Não considerou, talvez por não ser sua área, os açúcares mascavo e refinado e suas dinâmicas em nosso organismo. O refinado é um produto concentrado e pode gerar, com um consumo excessi- vo do mesmo, altos níveis de glicose no sangue de maneira relativamente rápida, visto que a catáli- se da sacarose não demanda muito tempo e energia para ocorrer. Inclusive, há a expressão ‘calorias vazias’, devido a retirada dos nutrientes do açúcar e o fornecimento, quase que 100 %, de glicose e frutose ao organismo.
Respeitando a tolerância de cada indivíduo, considerando os mais sensíveis aos produtos concentrados, pode ocorrer um efeito chamado ‘montanha-russa’, como expliquei anteriormente, cujo ponto mais baixo de hipoglicemia é de duas a quatro horas após a refeição. O indivíduo pode se sentir cansado e volta a ter fome. Caso ele novamente comer um alimento a base de açúcar refinado, mais perturbações podem acontecer novamente. Com o passar dos anos, a constante necessidade de insulina e as quedas nos níveis de glicose no sangue podem provocar avarias nas glândulas que produzem insulina, devido ao excesso de trabalho.
A decisão de optar por um tipo de açúcar é muito pessoal. Minha sincera opinião é que, se você possui problemas de saúde, quer emagrecer ou apenas manter-se saudável e em forma, procure um profissional da nutrição, o qual saberá, com base em análise das respostas do seu metabolismo, orientá-lo sobre a ingestão de alimentos e lhe indicará o adoçante mais adequado.
Nos dias atuais o homem tem procurado uma vida mais saudável e seus hábitos alimenta- res vêm sendo modificados pela introdução de novos produtos na sua dieta. Seja por cuidados com a estética ou problemas de saúde, o homem está substituindo o açúcar por produtos conhecidos como edulcorantes, compostos com sabor seme- lhante ao da sacarose, porém com baixo valor calórico ou completamente sem calorias.
Conforme podemos ver na Figura 10 , em um espaço de 20 anos no EUA, o número de americanos que utilizam adoçantes passou de 68 milhões, em 1984, para 180 milhões em 2004. Os edulcorantes permitidos para uso em alimentos e bebidas dietéticas são vários, mas cada um possui características específicas de intensidade, persistên-
cia do gosto doce e presença ou não de gosto residual. Além disso, tais características podem se modificar em função de suas concentrações. Estes fatores são determinantes na aceitação, prefe- rência e escolha por parte dos consumidores.
Figura 10 – Número de consumidores norte americanos de produtos (comidas e bebidas) de baixa caloria e com adoçantes dietéticos (em milhões de adultos). Fonte: Calorie Control Commentary: Fall 2004, Vol. 26. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os adoçantes são produ- tos especificamente desenvolvidos para dar sabor doce aos alimentos e bebidas, tendo a sacarose (açúcar de cana ou de beterraba) como principal exemplar. Já os adoçantes dietéticos conferem doçura sem possuir sacarose na composição, pois são elaborados para atender às necessidades de pessoas com restrição de carboidratos simples (como por exemplo, os diabéticos).
Os adoçantes dietéticos são constituídos basicamente por edulcorantes e agentes de cor- po. Os edulcorantes são substâncias químicas mais responsáveis pelo sabor doce e normalmente possuem um poder adoçante muito superior à sacarose, sendo necessária, portanto, uma quantida- de muito menor para se obter a mesma doçura, com a vantagem de ter menos ou nenhuma caloria. Já os agentes de corpo, também chamados de veículos, são compostos utilizados com a finalidade de diluir os edulcorantes dando volu- me ao produto. Como alguns edulco- rantes são 1000 vezes mais doces do que o açúcar (veja Tabela 2 ), se fos- sem comercializados na forma pura, teriam que ser usados em quantidades muito pequenas para se obter a mes- ma doçura da sacarose, o que tornaria seu uso inviável. Alguns exemplos de agentes de corpo permitidos pela legislação são: água, lactose, glicose, maltodextrina e manitol.
Os adoçantes dietéticos po- dem ser divididos em dois grupos distintos: não nutritivos (sacarina, ciclamato, acessulfame-k, sucralose e esteviosídeo) - fornecem doçura acentuada, não contêm calorias além de serem utilizados em quantidades muito pequenas; nutritivos (frutose, sorbitol e aspartame) - fornecem energia e textura aos alimentos, geralmente contêm valor calórico seme- lhante ao açúcar e são utilizados em quantidades maiores em relação aos não nutritivos.
Substância Doçura relativa à sacarose Lactose 0, Galactose 0, Maltose 0, D - Glicose 0, Sacarose 1, Açúcar Invertido 1, D - Frutose 1, Ciclamato de Sódio 30 Aspartame 180 Sacarina 300 Sucralose 650 Alitame 2. Taumatina e Monelina 3.
Tabela 2 – Doçura relativa à sacarose (com valor arbitrário igual a 1) dos principais adoçantes dietéticos naturais e artificiais.
Percebe-se que o acesulfame-K, o aspartame e a sacarina possuem praticamente o mesmo poder adoçante, respectivamente, 200, 200, 300 vezes mais doce que a sacarose em solução aquosa. O adoçante que se destaca neste aspecto é a sucralose, a qual possui um poder adoçante cerca de 600 vezes o da sacarose.
Outro aspecto importante o qual é analisado na tabela são os valores calóricos dos ado- çantes. Nesta tabela há apenas um adoçante dietético que fornece calorias quando ingerido, o as- partame. Perceba que ele fornece 4 kcal/g. O que isso significa? Que o aspartame fornece 4 kcal (ou 16,74 kJ)^11 por grama de aspartame consumido. Isto mesmo! Um leitor curioso poderia questionar. “Mas, esse valor não é o mesmo produzido pela sacarose?”. Este é um aspecto muito interessante. O aspartame produz a mesma quantidade de energia do que a sacarose, em massa, mas seu poder adoçante é cerca de 200 vezes maior que a sacarose, logo, a quantidade de aspartame utilizado para adoçar os alimentos é muito menor. Por isto, o valor energético fornecido pelo metabolismo do aspartame chega a ser insignificante.
Da mesma fora que o valor calórico, no quesito metabolismo, o aspartame é diferente dos três outros adoçantes analisados. Isto não significa, por favor, que ele seja ruim, nem bom! Apenas diferente! O metabolismo do aspartame relativamente detalhado pode ser visualizado na Figura 11.
Molécula do Acesulfame-K
Figura 11 –Metabolismo do Aspartame
Basicamente o aspartame é catabolizado^12 produzindo ácido aspártico (aminoácido), feni- lalanina (aminoácido) e metanol (álcool). Dois comentários se fazem necessário quando ao meta- bolismo do aspartame: a produção de fenilalanina e sua relação com a Fenilcetonúria e o surgimen- to de metanol com a posterior formação do ácido metanóico, composto extremamente tóxico em quantidades relativamente baixas no nosso organismo.
A fenilalanina é um aminoácido, do tipo essencial^13 , que promove, dentre outras coisas, a formação de precursores para a produção de melanina, pigmento responsável pela coloração de nossa pele. Ela é tranqüilamente metabolizada pela grande maioria da população, mas há uma pequena porcentagem (1 em cada 10.000 indivíduos da população caucaciana) que não metaboli- zam perfeitamente a fenilalanina, a qual representa os portadores da patologia chamada Fenilceto- núria ( P henyl K eton U ria - PKU). A PKU é uma doença autossômica recessiva, que se caracteriza pelo defeito ou ausência da enzima fenilalanina hidroxilase, a qual converte a fenilalanina em tiro- sina, dando seqüência as rotas metabólicas do organismo. Se a PKU não for controlada assim que o bebê nascer, os altos níveis de fenillanina no sangue podem causar, além de retardo mental irre- versível, atraso no desenvolvimento psicomotor (andar ou falar), convulsões, hiperatividade, tre- mor e microcefalia. O paciente com PKU não tratada geralmente mostra sintomas de retardo mental com cerca de um ano de vida. Para maiores informações sobre a PKU, acesse o artigo publicado em março de 2005 aqui no ZOOM sobre a Fenilcetonúria e o “teste do pezinho”.
Em função da formação da fenilalanina decorrente do metabolismo do aspartame, exige- se que os produtos com aspartame possuam a seguinte frase: “ Contém fenilalanina ”. Utilizando um rigor de análise (interpretação literal) da informação que a frase possui, ela esta estaria errada, visto que o produto não contém propriamente a fenilalanina, mas sim o aspartame que, quando metabo- lizado, produz fenilanalina. Portanto, os fenilcetunúricos devem evitar alimentos e bebidas que contêm aspartame.
Outro produto do metabolismo do aspartame que merece nossa atenção é o metanol, um composto de função álcool e de fórmula molecular CH 3 OH. Este, ao entrar em nosso organismo, é transformado em ‘ácido metanóico’, também conhecido como ‘ácido fórmico’^14. Tal ácido car- boxílico é extremamente tóxico em nosso organismo. Dependendo da quantidade de metanol ingerida, o indivíduo pode sofrer de cegueira irreversível e, em quantidades mais elevadas^15 , o ácido pode levar o indi- víduo à morte.
Em e-mails e websites sobre o aspartame são feitas acusações de que ele, dentre outras coisas, é uma ‘arma de guerra’. Vários aspectos são destacados sobre este adoçante dietético, como a produção de metanol quando metabolizado, por exemplo. Certamente o metanol promove a formação de um ácido extrema- mente tóxico ao nosso organismo, mas, conforme revelaram estudos sobre o assunto (DAVOLI et all, 1986), os níveis de metanol produzidos pelo metabolismo do aspartame são baixos o suficiente para garantir nenhum problema com a formação mínima de ácido fórmico no organismo, se res- peitado, evidentemente, o nível diário de consumo do aspartame. No caso específico deste adoçan- te, a FDA (Food and Drug Administration)^16 recomenda um consumo máximo de 50 mg/kg. Isto significa que uma pessoa com 70 kg pode consumir, diariamente, cerca de 3500 mg (ou 3,5 g) de aspartame por dia. Alguém poderia perguntar. ‘Quantas gotas de aspartame posso consumir por dia?’. O cálculo envolve a relação entre a densidade da solução do produto, massa de aspartame e o volume médio de uma gota. Então, com base nestes dados, poderimos calcular quantas gotas de adoçante dietético aspartame pode-se consumir, diariamente, de forma segura.
Molécula de Aspartame
Apesar de estudos revelarem que o metanol produzido não é suficiente para promover avarias em nosso organismo, é preciso considerar o fato de que nem todos os metabolismos res- pondem bem a estes níveis máximos de aspartame diários. É também comum ouvirmos de con- sumidores do produto queixas sobre ‘dores de cabeça’, as quais são sintomas característicos da ação do ácido fórmico. Sabe aquela dor de cabeça que surge pela manhã e que algumas pessoas sentem após terem ingerido, no dia anterior, bebidas alcoólicas chamada popularmente de ‘ressa- ca’? Pois esta dor de cabeça tem como explicação a formação do ácido acético em nosso organis- mo, proveniente da oxidação, catalisada por enzimas, do álcool etílico (etanol) em nosso organis- mo.